Vigésimo quarto texto da série Autores que cantaram o Douro
1. João Baptista da Silva Leitão (mais tarde, João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett) nasceu no Porto, em 1799, e morreu na cidade de Lisboa, em 1854.
Viveu várias vidas numa vida que não foi longa. Conjugou a escrita (poesia, prosa, dramaturgia, ensaio, textos em jornais e revistas) com a intervenção cívica e cultural: exerceu cargos políticos, participou na feitura de leis, foi diplomata bissexto e inspetor‑geral dos teatros, fundou e dirigiu publicações periódicas, compilou fragmentos do cancioneiro tradicional português. A sua empresa no âmbito das letras reflete as ideias políticas que defendeu. Almeida Garrett exilou‑se duas vezes por motivos políticos (entre 1823 e 1826 e de 1828 a 1831), a estada em Inglaterra e na França alargou os seus horizontes literários — vivia no Hexágono quando viram luz dois poemas que marcam a introdução do romantismo em Portugal, a saber, Camões (1825) e Dona Branca (1826). Implicado nas Lutas Liberais, juntou‑se às tropas que D. Pedro arrumou na ilha Terceira e que viriam a participar no Desembarque do Mindelo, em 8 de Julho de 1832. Sofreu reveses no campo sentimental e foi amante de Rosa Montufar, viscondessa da Luz, mulher casada que lhe inspirou as Folhas Caídas.
Mandatado por Passos Manuel, Almeida Garrett teve papel precípuo na renovação do teatro português. Esforçou‑se pela edificação de um teatro nacional (é o Teatro Nacional D. Maria II, durante alguns anos nomeado «Teatro Nacional de Almeida Garrett»), ajudou a criar uma escola para formar artistas, o Conservatório Geral de Arte Dramática (posteriormente, «Conservatório Real de Lisboa» e «Conservatório Nacional», extinto em 1983 para dar origem a diversas escolas de artes performativas), compôs peças de tema luso, tendentes a elevar o critério do público: Um Auto de Gil Vicente (1838), Dona Filipa de Vilhena (1840) e O Alfageme de Santarém (1842). Depois veio o notável Frei Luís de Sousa, escrito em 1843 e publicado no ano seguinte.
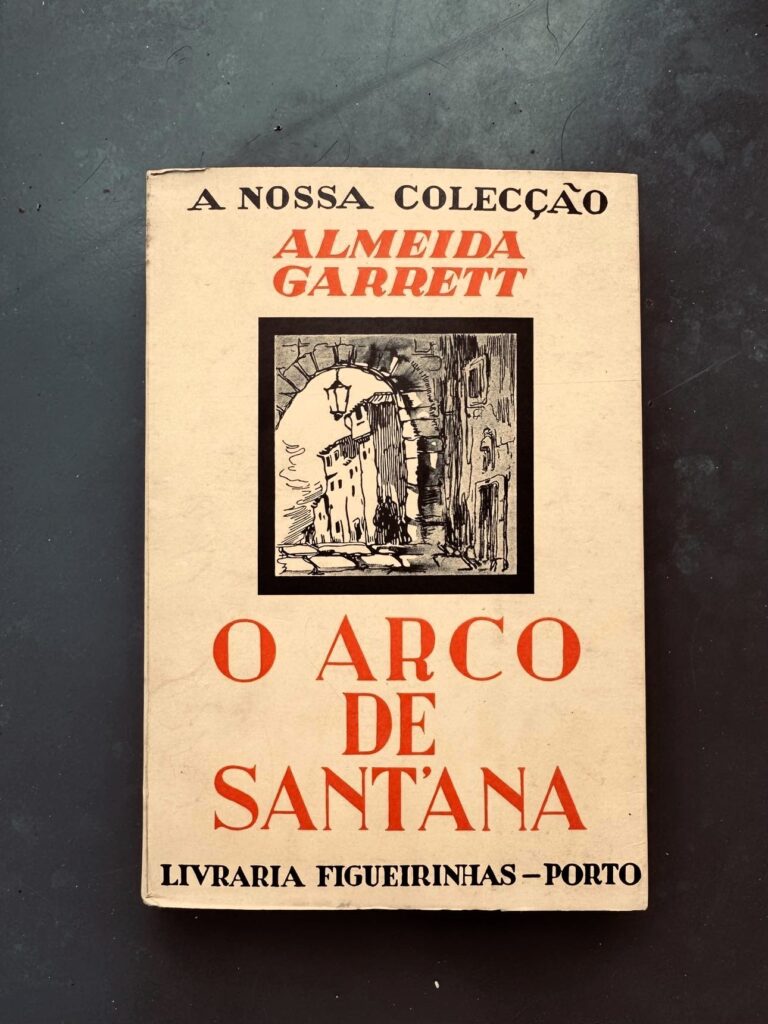
2. Menos conhecido que Viagens na Minha Terra, o romance O Arco de Sant’Ana foi inicialmente publicado em dois volumes (o primeiro em 1845, o segundo em 1850 ou 1851).
Disse acima que Almeida Garrett andou envolvido nas Lutas Liberais. Durante o Cerco do Porto (1832‑1833), as tropas de D. Pedro estiveram aquarteladas no Convento dos Grilos e Garrett, que integrava o Batalhão Académico, aí começou a escrever O Arco de Sant’Ana.
A respetiva ação decorre no século xɪv, num Porto cuja população se achava sujeita ao império e à exploração de um bispo ignóbil — o povo achava‑se entregue ao «cruel governo de um truão carniceiro»[1]. O rapto de uma mulher, Aninhas, a mando desse clérigo espoleta uma revolta encabeçada por Vasco, um estudante de 19 anos.
Vasco percebe que sempre foi um valido do prelado e que por si velava uma mendiga judia, a «Bruxa de Gaia», e acabará por descobrir que é filho de ambos: a mulher havia sido vítima de abuso por parte do indivíduo entretanto feito bispo.
O romance tem um final feliz para o burgo, que se liberta do jugo do clérigo, e para a gente de bem. O bispo é deposto e humilhado pelo rei, D. Pedro I, mas Vasco dá provas de afeto filial e consola‑o na hora em que ele parte para Bruges, a terra do seu degredo.
Almeida Garrett colheu inspiração na Chronica de el‑rei D. Pedro I, de Fernão Lopes, e embora a intriga tenha lugar no século xɪv, o autor visava uma leitura própria das condições do seu tempo: pretendia combater a reação cabralista e antiliberal, apoiada pela Igreja e pronta a restaurar o poder da oligarquia eclesiástica.
3. O Arco de Sant’Ana contém várias menções ao Douro e uma descrição, bonita e visual, que me leva a incluir Garrett nesta série devotada a autores que cantaram tal rio. Diz respeito a um cortejo no Douro, uma procissão em honra de São Marcos Evangelista. Eis o excerto em causa:
«Uma flotilha de saveiros com seus toldos embandeirados e ornados de festões de flores, seus conveses juncados de espadanas, está prolongada com a praia, e recebe a procissão a seu bordo.
As ladainhas não pararam, o canto não cessou: acompanha‑o agora o remar certo e compassado dos barqueiros cujas vozes, roucas mas afinadas, se juntavam também ao clamor geral do coro, e bradavam com ele:
Te rogamus, audi nos!
É impossível imaginar espectáculo mais solene e grandioso, do que esse que então ofereciam as águas e as margens do Douro.
Todavia [Toda] a divina poesia da religião e da natureza, todo o pitoresco dos costumes feudais, toda a animação dos grandes ajuntamentos populares, se reuniam e se harmonizavam nesse quadro.
Um sol de primavera batia a prumo sobre águas, rochas e verduras. O ar estava sereno e tépido, o céu azul e transparente, a água corria mansa; de um lado e outro do rio a população da cidade e da vila, prolongada pelos brancos areais que se espelhavam com o sol, contemplava em religioso silêncio a marítima procissão que, em longa diagonal, ia cruzando o rio quase como se o descesse, pois é considerável a distância que vai donde hoje é a porta Nobre, em que embarcara, até o desembarcadouro de Gaia onde foi ter.
Rio acima, as várzeas de Campanhã, de Ramalde e de Avintes resplandeciam com as esmeraldas da jovem primavera; para a banda da Foz os ceiceirais de Val de Amores descaíam sobre a água como se ainda estivessem acoitando os traidores e vingativos barcos de El‑Rei Ramiro quando veio desde Galiza em busca de mulher que lhe tinha o mouro, porque lhe ele tinha a irmã.»[2]
[1] GARRETT, Almeida, O Arco de Sant’Ana, Porto, Livraria Figueirinhas, [s.d.], p. 212.
[2] GARRETT, Almeida, ob. cit., pp. 94‑95.
